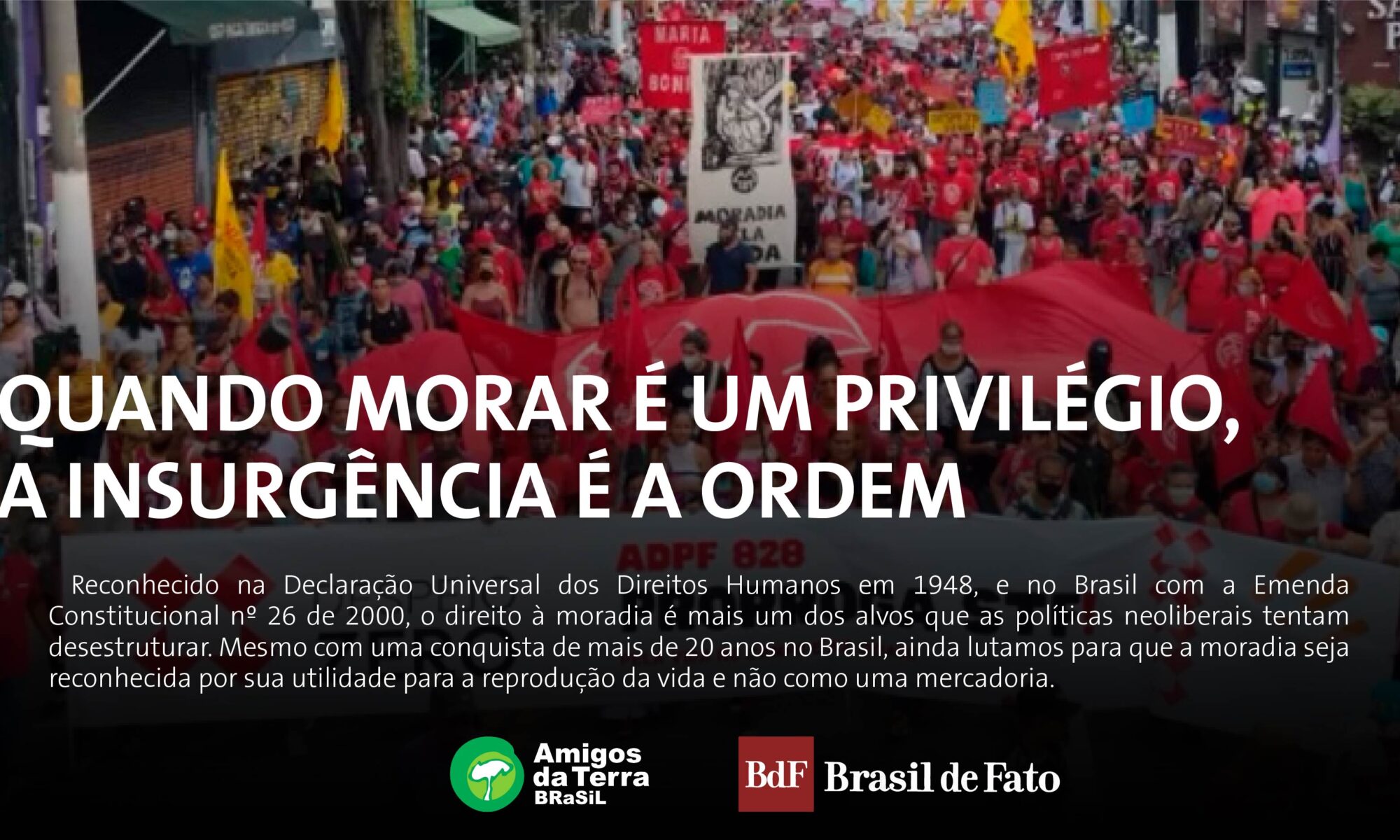Em 1948, o direito à moradia ingressou no rol de direitos fundamentais, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, alçando o lugar de direito humano universal. Tal direito só foi reconhecido no Brasil com a Emenda Constitucional nº 26 de 2000, sendo inserido no rol de direitos sociais do artigo 6º, ao lado do trabalho, saúde, educação, alimentação e outros. Passados quase 75 anos do reconhecimento desse direito, ao invés de caminharmos para sua efetivação, as políticas neoliberais nos levam a sua destruição.
O núcleo central do problema reside em deixar de considerar a utilidade (necessidade) da moradia para reprodução da vida e transformá-la numa mercadoria, promovido por meio da especulação imobiliária. A supervalorização de imóveis permite que vários fiquem desocupados na cidade. Em muitas localidades, o déficit habitacional poderia ser suprido pelo número de imóveis vazios, no entanto, não há interesse público em fazer cumprir a função social da propriedade urbana.
Outro aspecto ligado à especulação é que a valorização dos imóveis tem crescido exponencialmente, não sendo acompanhada pelo aumento da renda da população. Isso tem gerado um cenário em que famílias, mesmo com renda, estão longe de ter condições de adquirir um imóvel próprio, ou mesmo arcar com o preço dos aluguéis. Alguns estudos apontam que as famílias comprometem mais de 30% de sua renda em moradia, inviabilizando a realização de outros direitos.
Na prática, a especulação leva cada vez mais as famílias de classe média para longe das regiões centrais e impõe, às classes mais populares, a constituição de ocupações urbanas, e até mesmo, a marginalidade da situação de rua. Dessa forma, há uma precarização das populações socialmente vulneráveis para privilegiar os interesses de agentes financeiros. A ausência da atuação do Estado para proteger o direito à moradia adequada, constituindo políticas habitacionais, é promotor da exclusão das cidades. Assim, o Estado ausente transfere suas obrigações aos indivíduos, expondo a população a administrar sozinha os riscos sociais e econômicos.
O primeiro programa habitacional mais elaborado no país foi constituído em 2009, “Minha Casa, Minha Vida”, pelo qual 4 milhões de brasileiros e de brasileiras acessaram a casa própria. Ainda que tenha sido um importante avanço, o programa não enfrentou o desafio da financeirização da terra no país, à medida que promovia o acesso à moradia por meio do crédito bancário. Também, é importante destacar que o programa acabou por permitir uma captura corporativa das construtoras que controlavam a execução, constituindo-se como grandes corporações na região.
A situação está ainda pior com o fim do programa e a criação do Casa Verde e Amarela pelo Governo Bolsonaro, que excluiu completamente a faixa de baixa renda. Segundo dados da Fundação João Pinheiro, o déficit habitacional do Brasil chega a 6 milhões (2019). São pessoas que não têm ou que vivem em condições precárias de moradia, como ausência de sanitários, superlotação. Durante a pandemia, essa realidade se tornou ainda mais grave. O aumento do custo de vida no país, com altos índices de inflação, a deterioração do salário mínimo, o crescimento do desemprego e informalidade afetaram diretamente o acesso à moradia; conforme estudos da Campanha Despejo Zero, o risco de moradia cresceu 655% na pandemia. Também alçamos o recorde histórico de população em situação de rua nas capitais.
Outro elemento que contribui para o agravamento da crise de moradia no país é o avanço do poder corporativo sobre os bens públicos essenciais. Cada vez mais as políticas da cidade estão sendo capturadas por corporações. Seja pela privatização de serviços públicos essenciais como transporte público, aeroportos, serviço de abastecimento de água e saneamento, fornecimento de energia elétrica. Até a transferência da administração das políticas públicas em si, como a subcontratação de consultorias para elaboração de planos diretores.
Ou mesmo, os custos sociais das políticas de isenção fiscal para as empresas. Um caso emblemático é o da companhia alemã Fraport, que controla o aeroporto de Porto Alegre (RS). A empresa recebeu isenção de IPTU mesmo se beneficiando de um negócio lucrativo. A situação se agrava quando a prefeitura disponibiliza 1.500 moradias, que estavam destinadas ao atendimento do déficit habitacional da cidade, para que a empresa faça o reassentamento das famílias deslocadas pela ampliação do aeroporto. Por essa intervenção, a Fraport não arcou com os custos e a responsabilidade pelo orçamento advinda do acordo de concessão.
O alerta dos despejos e remoções
O poder judiciário no Brasil é extremamente conservador, nunca enfrentou as questões estruturais dos conflitos possessórios coletivos no país, sempre optando pela garantia dos direitos de propriedade, tornando os despejos a regra – e não exceção. Dessa forma, configura-se um imenso passivo de violência contra populações despejadas. Ocupações inteiras são desfeitas sem qualquer projeto de reassentamento, apesar do que estipulam órgãos de direitos humanos como a Relatoria de Cidades da Organização das Nações Unidas (ONU), os Comentários Gerais do Comitê Dhesca e a Resolução nº10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos.
A luta contra os despejos e remoções faz parte da história de resistência de muitos movimentos no país. Durante a pandemia essas organizações se articularam ao redor da Campanha Despejo Zero para reivindicar o direito a permanecer em sua moradia em razão de toda a crise sanitária. Uma das medidas adotadas foi a proposição da Ação Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 828, na qual se pedia a suspensão dos despejos até a finalização da pandemia. O Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão histórica, concedeu a suspensão reconhecendo a urgência do direito à moradia e a preservação da dignidade das famílias.
Essa ação resultou em que 14.600 famílias não fossem despejadas. Muito embora os efeitos da decisão do STF sejam vinculantes, 27.600 famílias foram removidas, tanto em despejos legais (determinados por juízes) como ilegais. Estima-se que 133 mil famílias estejam ameaçadas de despejo caso o STF não atenda ao novo pedido de prorrogação da medida, realizado pela Campanha, no qual se solicita que seja estendida até o final do ano ou quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar o fim da pandemia. Tais dados demonstram a gravidade do aprofundamento da crise da moradia que está por vir.
Não há formas de pensar a retirada das famílias de um teto que seja humanizado, os únicos caminhos possíveis são a não remoção ou reassentamento. O Poder Judiciário precisa assumir sua responsabilidade ao determinar a reintegração de posse, fazendo com que seja assegurado a mediação desses conflitos, o acesso à justiça dos afetados, já que em geral esses não dispõem de possibilidades de se manifestar. A questão do despejo é coletiva, não podemos individualizá-la por núcleo familiar.
Nesse sentido, cadente a proposição de Resolução elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para criação de um Protocolo de Reintegração de Posse Digna. A medida parece ser uma resposta à gravidade do déficit habitacional, uma vez que com a possibilidade de retomada dos despejos se cria a urgência em se pensar uma transição para evitar o aprofundamento da crise social da moradia. Novamente, no texto encontramos a individualização do problema, bem como a determinação da discricionariedade do juiz da causa para buscar uma mediação no tribunal do conflito. Talvez, a questão mais grave da Resolução seja a precariedade do processo de Consulta Pública proposto, foram dados apenas 4 dias para que a sociedade civil submeta via formulário online seus apontamentos. Em se tratando de um tema tão denso deveria se promover um amplo debate público, com a realização de audiências públicas e seminários, e um prazo mais adequado para constituição de uma posição coletiva.
Os despejos também ganharam a atenção do parlamento com a proposição do Projeto de Lei 1501/2022, que traz o cenário mais garantista para se pensar a realidade pós-Covid no direito de moradia. Na justificativa do projeto, os despejos são conectados à realidade da precariedade da vida urbana no acesso aos alimentos, trabalho, água, sobre o aumento das tarifas de serviços públicos essenciais, demonstrando que morar também significa ter condições e acessibilidade.
A nova fronteira de avanço do capital na cidade
Na contramão da defesa da moradia, algumas semanas atrás a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei nº. 4188/2021, que flexibiliza o entendimento do “bem de família”, desta forma autorizando que as pessoas possam perder suas casas em razão de dívidas. No Brasil, visando proteger a única moradia da família está proibida a tomada de bem imóvel habitado em razão de dívidas, é o que chamamos de “impenhorabilidade de bem de família”. O que o projeto viabiliza é justamente flexibilizar esse direito.
O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), principal expoente da luta por políticas de moradia no país, destaca a gravidade do PL. Segundo a organização, cria-se a possibilidade de as famílias penhorarem seu bem em empréstimos realizados a instituições financeiras, podendo fornecer o mesmo bem para mais de uma transação. Partindo da realidade de endividamento das famílias brasileiras, estamos diante da criação de um precedente tão grave como a crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos (EUA).
Recordamos que em razão do cenário de desemprego e inflação nos EUA, muitas famílias contraíram diversas dívidas em suas casas fornecendo o mesmo imóvel para mais de um empréstimo. O resultado foi o colapso da bolha imobiliária dos bancos, levando centenas de pessoas a morarem na rua, em trailers, em total precariedade de moradia. Mesmo que essa crise seja amplamente conhecida, à medida que afetou todo o mercado financeiro internacional, estamos justamente criando a mesma possibilidade de colapso no Brasil. Se o PL avançar no Senado, teremos centenas de brasileiros perdendo suas casas para bancos. Serão mais imóveis vazios, mais especulação, mais caro será o direito de morar.
Por teto, pão e trabalho, marchamos!
No próximo dia 21 de junho a Campanha Despejo Zero, em suas diversas organizações locais, estaduais e regionais, vai às ruas para exigir a suspensão de despejos durante a pandemia e a prorrogação da decisão do STF no âmbito da ADPF 828. A garantia do direito à moradia é a porta de entrada para consecução de todos os outros direitos sociais no país. Sem moradia adequada não há saúde, educação, condições de soberania.
Se o direito a morar continuar a ser decidido pelos interesses de instituições financeiras, se o acesso à cidade for cada vez mais privatizado, constituirá um privilégio, e portanto, um favor concedido pela burguesia a algumas pessoas. Contra a mercantilização da moradia e a efetivação de sua garantia como direito universal, a insurgência a esse projeto é a ordem. Seguiremos em luta para que o teto, o pão e o trabalho sejam direitos, e não favores!
Crédito da imagem de destaque: Campanha Despejo Zero
Artigo publicado no jornal Brasil de Fato neste link: https://www.brasildefato.com.br/2022/06/20/quando-morar-e-um-privilegio-a-insurgencia-e-a-ordem