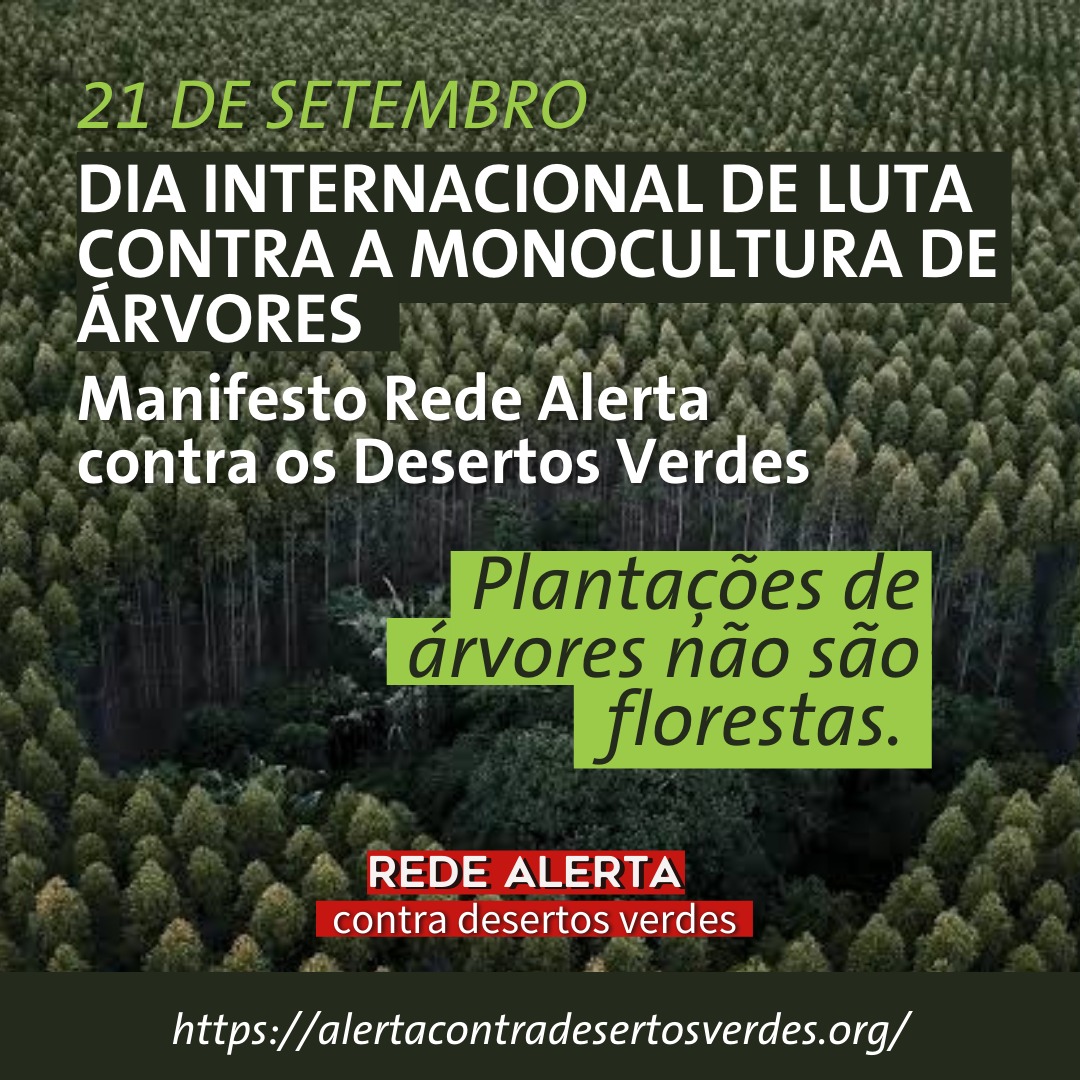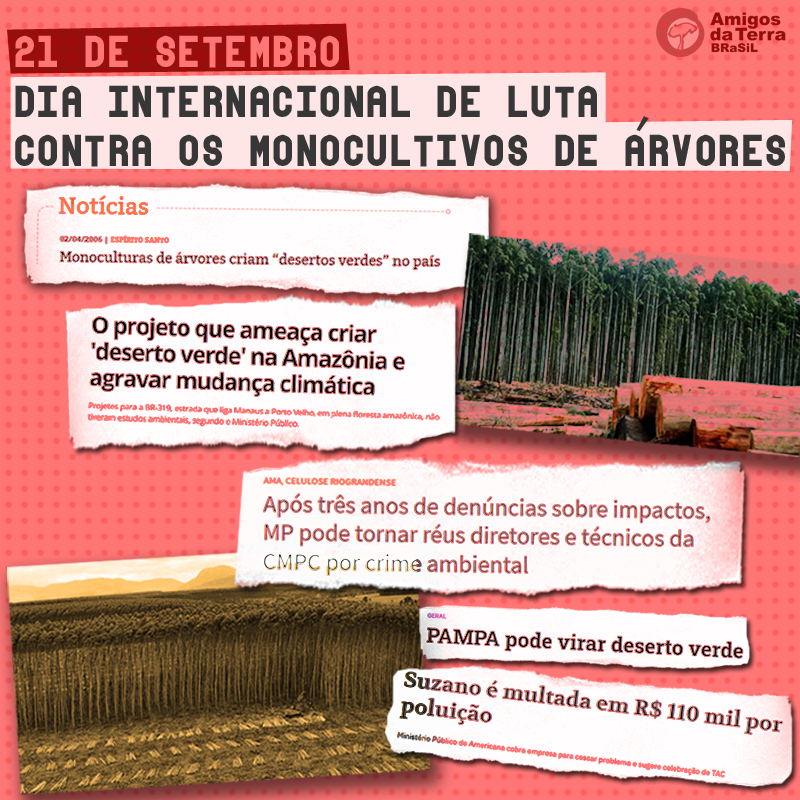A 26ª. Conferência das Partes/COP 26 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climática/UNFCCC será realizada no início de novembro de 2021, em Glasgow, no Reino Unido.
Manifest towards COP 26, click here: https://www.cartadebelem.org.br/manifest-towards-cop-26/
Manifiesto hacia la COP 26, pulse aquí: https://www.cartadebelem.org.br/manifiesto-hacia-la-cop-26/
Essa COP ocorrerá quando o mundo já vive os efeitos da emergência
climática. A grande expectativa para Glasgow é a finalização do Livro de
Regras do Acordo de Paris. Firmado em 2015, o Acordo aguarda a decisão
sobre o famoso ‘Artigo 6’. Este artigo irá regular o papel dos mercados
de carbono – e de transações envolvendo ‘resultados de mitigação’ – para
atingir os objetivos de estabilização da temperatura do planeta.
No Brasil, os efeitos desta crise se somam às consequências
socioambientais resultantes dos ataques aos direitos socioterritoriais
de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores
familiares e camponeses. Assim como nas cidades, e principalmente nas
periferias urbanas, com o povo empobrecido em regiões com
infraestruturas precárias e sujeitas a eventos extremos, somada ao fim
de políticas públicas de combate à fome, como o Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA). O desmonte da institucionalidade ambiental é notório,
levando a recordes sucessivos de desmatamento e queimadas nos biomas
brasileiros. A violência no campo e na floresta é também uma das maiores
das últimas décadas.
Para salvar o clima, a obsessão nos mercados de carbono
Apesar dos fracassos dos mecanismos de mercados em produzir reduções
reais de emissões em todo mundo, estes seguem sendo promovidos como a
grande aposta estrutural para viabilizar a descarbonização e o objetivo
de neutralidade climática.
Há duas décadas, a aposta nos mercados de carbono e nos mecanismos de
compensação (offset) vêm sendo duramente criticadas pela sociedade
civil como falsa solução à crise climática, assim como pelos impactos
causados nos territórios do Sul Global que são submetidos à condição de
sumidouros de carbono.
O atual contexto da Amazônia brasileira exige especial atenção pela
paralisação das demarcações de Terras Indígenas e pela invasão de
territórios de comunidades tradicionais, em especial, áreas de uso comum
e territórios coletivos. Além disso, incêndios florestais se
intensificam desde 2019, colocando em risco de desertificação regiões
ecológicas como a Amazônia, Pantanal e Cerrado brasileiro.
Mercado de carbono é licença de poluição. Por isso, entre os efeitos
da sua implementação estão a expansão de atividades destrutivas nos
campos da mineração, do extrativismo em escala industrial e queima de
combustíveis fósseis (que podem ser compensadas/neutralizadas em outro
lugar). No Brasil, tal racionalidade encontra-se refletida nos programas
Adote um Parque e Floresta+ Carbono.
Portanto, considerando que essa COP 26 conta com as piores condições
para a participação democrática na história das negociações climáticas,
apoiamos a posição de ampla coalizão da sociedade civil que demanda o
seu adiamento, até que se apresentem condições mais equânimes de
participação.
Governança ambiental global e retomada verde pós-COVID: corporações e finanças no centro
Na nossa avaliação, esta não será apenas mais uma COP. A COP 26
pretende dar um passo definitivo para cristalizar a complexa arquitetura
de governança ambiental global que vem sendo negociada há anos.
O último relatório do IPCC reforçou o tom da emergência climática e
há urgência para um horizonte de recuperação econômica global e retomada
verde (Green Deal) pós-Covid, no qual a dinâmica motriz do novo ciclo
econômico é guiada pelas estratégias combinadas de descarbonização e
transformação digital da economia.
À arquitetura do clima se soma a Convenção de Diversidade Biológica
(COP 16), que será realizada em Kunming, China, em abril/maio de 2022.
Na ocasião, os países irão decidir sobre o Marco Global para
Biodiversidade pós-2020, por meio de um plano estratégico até 2030, que
conta com o objetivo de ampliar para 30% a superfície terrestre e
marinha sob o regime de áreas protegidas/unidades de conservação.
Além disso, vem ganhando tração a problemática e muito criticada
agenda movida pelas corporações. Trata-se da Cúpula dos Sistemas
Alimentares, que foi organizada no âmbito das Nações Unidas e vem
promovendo verdadeira transformação da governança dos sistemas
alimentares globais.
Neste mesmo caminho vêm as propostas de Soluções Baseadas na Natureza
(NbS, na sigla em inglês). Estas incluem, entre outros, a promoção de
monoculturas de eucaliptos, agrocombustíveis e a aposta em transformar a
agricultura numa grande oportunidade de mitigação em escala associada
ao mercado de carbono de solos.
É nosso entendimento que as NbS fazem com que as ações de mitigação
passem a depender prioritariamente do acesso e o controle da terra, em
um contexto no qual os mecanismos de governança territorial públicos
estão cedendo lugar a lógicas privadas e privatizantes que acirram os
conflitos de terra e a violência. A principal ameaça em curso contra
territórios coletivos se dá através da implementação do Cadastro
Ambiental Rural (CAR), que vem promovendo e consolidando a grilagem
digital de terras.
Neste cenário, vemos, ainda, atores como o FMI e Banco Mundial, com
propostas de troca de dívida por ação climática (debt for climate/debt
for nature swap). Note-se que dívidas privadas são garantidas pelos
tesouros nacionais, gerando, assim, endividamento público.
Consequentemente, aprofundam desigualdades sociais e geram
transferências massivas de renda dos pobres para os já muito ricos.
Ambos os organismos se movimentam para apoiar a nova engenharia
financeira que se diz ser necessária para viabilizar um novo pacto
social verde (Green Deal), no qual programas de retomada e recuperação
passam, entre outras coisas, pela emissão dos títulos verdes (green
bonds). Dessa maneira, a terra e outros “ativos” ambientais (carbono,
biodiversidade, etc) são transformados em garantias para títulos que são
negociados no mercado financeiro.
Por que dizemos não à espoliação em nome do clima?
“Em nome do clima”, uma série de agendas e mecanismos atendem aos interesses de atores nacionais e internacionais e vêm causando impactos avassaladores na expropriação e espoliação de territórios, apropriação de recursos naturais, na violência real e simbólica sobre populações e modos de vida.
Ao mesmo tempo, a expansão do complexo agroindustrial brasileiro e as infraestruturas logísticas a ele associadas colocam na linha de frente os corpos e os territórios (físicos ou imaginados) de povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, povos e comunidades tradicionais, camponeses e agricultores familiares, de todos os biomas do Brasil.
Diante deste cenário e considerando o que a COP 26 representa na consolidação do regime de governança climática internacional, nós, organizações da sociedade civil brasileira, movimentos sociais, movimentos sindicais, entidades, fóruns, articulações e redes, ativistas, pesquisadores reunidos no Grupo Carta de Belém e demais organizações signatárias deste manifesto, vimos diante do público nacional e internacional afirmar que:
● O debate sobre o clima é irredutível a questões técnicas ou a novas oportunidades de financiamento: insere-se na organização da sociedade; nas relações de poder, econômicas e políticas; contextos históricos; relações de classe e em correlações de forças;
● Os mecanismos de
mercado criados para a redução das emissões de gases de efeito estufa,
representam um processo histórico de reconfiguração das formas de
acumulação e promovem nova reengenharia global da economia em nome do
clima.
●Somos contrários à
introdução das florestas, ecossistemas e da agricultura em mecanismos de
mercado de carbono e rechaçamos a promoção de instrumentos do mercado
financeiro como meio prioritário para financiar a ação climática dos
países.
● Denunciamos que o conceito muito popularizado de emissões
líquidas zero (Net-zero) encobre mecanismos de compensação (offset) que
perpetuam injustiças e atentam contra a integridade ambiental;
●Rechaçamos as novas
dinâmicas de espoliação promovidas sob a alcunha de Soluções Baseadas na
Natureza que criam novas cercas aos espaços de vida, reduzindo a
“natureza” à prestadora de serviços para o proveito de empresas e
mercados.
Por isso,
● Enfatizamos a defesa de um projeto político para a Amazônia,
construído para e com os povos amazônidas, respeitando os seus modos de
vida, criar e fazer.
● Afirmamos que soluções efetivas para redução das emissões dos gases
de efeito estufa residem na demarcação de terras indígenas e
quilombolas; e na defesa das terras coletivas e dos direitos
territoriais;
● Defendemos o protagonismo dos povos indígenas, comunidades
tradicionais, agricultores familiares e camponeses/as para a conservação
dos territórios, da biodiversidade e dos bens comuns;
● Trabalhamos para o fortalecimento de iniciativas agroecológicas,
que contribuem para a conservação da sociobiodiversidade, encurtamento
dos circuitos de comercialização e a soberania alimentar.
● Consideramos que é preciso discutir amplamente o caminho para uma
Transição Justa e Popular, conforme a qual uma economia mais integrada e
consciente dos limites da natureza não acirre a já dramática situação
de desemprego e restrição da renda de famílias da classe trabalhadora;
Por fim, denunciamos o governo genocida de Jair Bolsonaro e questionamos a quem interessa fazer do Brasil um pária internacional,
financiando e fortalecendo a destruição de conquistas históricas do
Estado brasileiro e seu papel protagonista ao longo de décadas de
negociação internacional.
Resistimos e somos contra à transformação da natureza em capital
natural e à financeirização e privatização da natureza e dos bens
comuns!
Continuaremos em luta, construindo e afirmando alternativas, defendendo nossos modos de vida!
Assinam:
1 Grupo Carta de Belém
2 Central Única dos Trabalhadores (CUT)
3 Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG)
4 Conselho Nacional das Populações Extrativista (CNS)
5 Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB)
6 Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (CONAQ)
7 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
8 Marcha Mundial das Mulheres (MMM)
9 Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB)
10 Movimento de Mulheres Camponesas (MMC)
11 Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA)
12 Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP)
13 Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST)
14 Abong – Associação Brasileira de ONGs
15 Ágora de Habitantes da Terra (AHT-Brasil)
16 Aliança RECOs – Redes de Cooperação Comunitária Sem Fronteiras
17 Alternativas para pequena agricultura no Tocantins (APA-TO)
18 Amigos da Terra Brasil (ATBr)
19 Articulação Agro é Fogo (AéF)
20 Articulação de Mulheres Brasileiras Jaú-SP (AMB)
21 Coletivo Raízes do Baobá Jaú-SP
22 Articulação de mulheres do Amapá (AMA)
23 Articulação de Mulheres do Amazonas (AMA)
24 Articulação Nacional de Agroecologia (ANA)
25 Articulação Pacari Raizeiras do Cerrado (Pacari)
26 Articulação PomerBR
27 Articulação Semiárido Brasileiro (ASA)
28 AS-PTA Agricultura Familiar e Agroecologia
29 Assessoria e Gestão em Estudos da Natureza, Desenvolvimento Humano e Ageoecologia (AGENDHA)
30 Associação Agroecológica Tijupá (Tijupá)
31 Associacao de Favelas de São José dos Campos SP (Afsjc)
32 Associação de Mulheres Agricultoras (AMACAMPO)
33 Associação Maranhense para a Conservação da Natureza (AMAVIDA)
34 Associação Mundial de Comunicação Comunitária – Brasil (AMARC BRASIL)
35 Associação Solidariedade Libertadora área de Codó (ASSOLIB)
36 Campanha Antipetroleira Nem um poço a mais!
37 Cáritas Brasileira (CB)
38 CDDH Dom Tomás Balduíno de MARAPÉ ES
39 Centro Dandara de Promotoras Legais Populares
40 Centro de Apoio a Projetos de Ação Comunitária (Ceapac)
41 Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia (CAPA)
42 Centro de Atividades Culturais Econômicas e Sociais (CACES)
43 Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá (Centro Sabiá)
44 Centro de Promoção da Cidadania e Defesa dos Direitos Humanos Padre Josimo (CPCDDHPJ)
45 Centro Ecológico (CAE Ipê)
46 Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos Povos e Comunidades Tradicionais Costeiros e Marinho (CONFREM-Brasil)
47 Comissão Pastoral da Terra (CPT)
48 Comitê de Energia Renovável do Semiárido (CERSA)
49 Comitê dos Povos e Comunidades Tradicionais do Pampa (CPCTP)
50 Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração
51 Conselho de Missão entre Povos Indígenas (COMIN)
52 Conselho Indigenista Missionário (CIMI)
53 Conselho de Missão entre Povos Indígenas (COMIN)
54 Conselho Nacional de Ssgurança Alimentar e Nutricional (CONSEA -AM)
55 Coordenadoria Ecumênicade Serviço (CESE)
56 Defensores do planeta (DP)
57 Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB)
58 Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE)
59 Fundação Luterana de Diaconia (FLD)
60 Federação dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares do estado do Pará (FETAGRI-PA)
61 Fórum da Amazônia Oriental (FAOR)
62 Fórum de mulheres do Araripe (FMA)
63 Fórum Mato-grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento (Formad)
64 Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental (FMCJS)
65 Fotógrafos pela democracia (FPD)
66 Fundo Dema
67 Greenpeace Brasil (GPBR)
68 Grupo de Estudos em Educação e Meio Ambiente do Rio de Janeiro (GEEMA)
69 Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre Estado e Territórios na Fronteira Amazônica (GEPE-Front)
70 Grupo de Estudos: Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente (GEDMMA)
71 Guerreiras da Palhada
72 Instituto Brasileiro de Analises Sociais e Economicas (Ibase)
73 Instituto de Estudos da Complexidade (IEC)
74 Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc)
75 Instituto Equit – Gênero, Economía e Cidadania global (I.EQUIT)
76 Instituto Mulheres da Amazônia (IMA)
77 IYALETA Pesquisa, Ciência e Humanidades
78 Justiça nos Trilhos
79 KOINONIA Presença Ecumênica e Serviço
80 Marcha Mundial por Justiça Climática/ Marcha Mundial do Clima
81 Memorial Chico Mendes (MCM)
82 Movimento Baía Viva ( Baía Viva – RJ)
83 Movimento brasileiro de Mulheres cegas e com baixa visão (MBMC)
84 Movimento Ciencia Cidadã (MCC)
85 Movimento Mulheres pela P@Z!
86 Movimento Negro Unificado-Nova Iguaçu (MNU-Nova Iguaçu)
87 Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo/UEG (GWATÁ)
88 Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político
89 Processo de Articulação e Diálogo entre Agências Europeias e Parceiros Brasileiros (PAD)
90 Rede Brasileira Pela Integração dos Povos (REBRIP)
91 Rede de Agroecologia do Maranhão (Rama)
92 Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneira (Rede Pantaneira)
93 Rede de Educação Ambiental do Rio de Janeiro (REARJ)
94 Rede de Educação Ambiental e Políticas Públicas (REAPOP)
95 Rede de Mulheres Ambientalistas da América Latina – Elo Brasil (Red Mujeres)
96 Rede Feminista de Saude, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos
97 Rede Jubileu Sul Brasil
98 Sempreviva Organização Feminista (SOF)
99 Sindicato dos Docentes da UNIFESSPA (SINDUNIFESSPA)
100 Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ)
101 Terra de Direitos
* A Amigos da Terra Brasil (ATBr) integra o Grupo Carta de Belém